Feira de Ciências antirracista: inovações e saberes negros e indígenas
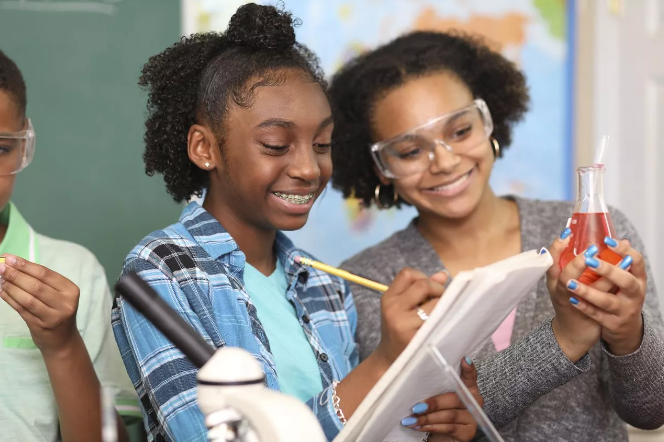
Educadores destacam que feiras de Ciências decoloniais ajudam a repensar a unilateralidade dos saberes científicos, buscando um ensino mais diverso
No livro História preta das coisas: 50 invenções científico-tecnológicas de pessoas negras, a autora Bárbara Carine aborda o mito da primazia intelectual grega. Após citar uma lista extensa de pensadores e suas contribuições consideradas fundantes da humanidade – como a filosofia que surge com Tales de Mileto, a matemática a partir de Pitágoras e a medicina com Hipócrates –, ela faz uma pergunta desconcertante: “Por que em um planeta tão grande e diverso, com várias civilizações anteriores à Grécia, tudo ficou tão estático, apático e sem vida esperando a Grécia surgir e trazer ‘luz’ ao mundo?”.
A pergunta instiga uma reflexão fundamental sobre o quanto o Ocidente, representado pelo continente europeu branco, usou como base apenas o conhecimento greco-romano para definir o significado das coisas e criar a noção de universalidade. Tudo isso deixando de fora as histórias de civilizações anteriores e marcando de forma bastante incisiva o que é relevante ou não para a humanidade conhecer, aprender e repassar para as próximas gerações.
Ter essa compreensão sobre o quanto todos os campos de conhecimento são marcados por essa visão centralizadora, especialmente eurocêntrica, ajuda a entender os motivos pelos quais os saberes de outros povos foram desconsiderados ou apagados ao longo da História. Isso em todos os espaços de conhecimento, inclusive no ambiente escolar.
No campo das Ciências, há diversos exemplos. Algumas das invenções materiais de pessoas negras ou fortemente influenciadas por pessoas negras foram enumeradas no livro de Bárbara Carine, que é professora efetiva da Universidade Federal da Bahia, graduada em Filosofia e em Química, com mestrado e doutorado em ensino de Química na mesma instituição. Ao observar algumas dessas invenções, como o calendário, a escrita, cerâmica e mesmo as mais recentes, como a turbina eólica, marcapasso ou absorvente descartável, percebemos que nem sempre os registros históricos foram justos com seus autores – nestes casos, pessoas negras.
Feira de Ciências decolonial
Conhecer as colaborações de pensadores negros e indígenas, refletir sobre apagamento de autorias das criações e a disputa de narrativa sobre as invenções, e ampliar a percepção para saberes de outras origens, que não só a europeia, são questões importantes e que devem estar presentes na sala de aula. Até porque essa abordagem serve para atender ao cumprimento das leis 10.639 e 11.645, que determinam a inclusão do estudo das histórias e culturas dos povos africanos, afro-brasileiros e indígenas, inclusive nas aulas de Ciências, e não só nos conteúdos curriculares de História ou Língua Portuguesa.
Uma boa estratégia para desenvolver essas discussões pode ser a montagem de uma Feira de Ciências com recorte decolonial. O professor de Ciências da Natureza, Yuri Vasconcelos, que atualmente leciona na EMEF Deputado Januário Mantelli Neto, localizada na zona leste de São Paulo (SP), já testou na prática esse formato. Usou como base o próprio livro de Bárbara Carine. Separou as turmas e distribuiu cada página do livro, ou seja, uma invenção para cada grupo. Os estudantes tiveram que investigar mais sobre cada criação e apresentar em exposição, com cartaz, escultura ou forma artística que preferissem.
“Eram descobertas que eles não faziam a mínima ideia que tiveram origem na África ou foram feitas por pessoas negras como, por exemplo, teste de gravidez e instrumentos cirúrgicos, que surgiram no antigo Egito. Ou então o sistema de monitoramento de segurança doméstico, equipamento criado por Marie Van Brittan Brown, na década de 1960, nos Estados Unidos”, recorda.
Para Yuri, esse desconhecimento é um reflexo até mesmo dos conteúdos dos livros didáticos atuais. Em seu trabalho de conclusão da graduação, em 2022, ele analisou quatro coleções de livros de Ciências publicados antes da promulgação da Lei 10.639 e mais quatro coleções publicadas depois. A conclusão foi que, antes, as coleções não mencionavam nenhuma colaboração negra às ciências; depois, o que havia era apenas uma representatividade enviesada. “Por exemplo, para ilustrar gravidez na adolescência havia imagem de uma menina negra, mas nada associado a algo intelectual. E quando era destacado algum grande conhecimento ou alguma descoberta, a atribuição era sempre feita a pessoas brancas”, cita.
Atividades mais dinâmicas, como a de feiras com recorte decolonial, também podem ajudar a irrigar esses conteúdos sobre colaborações diversas, quebrar paradigmas e a despertar para o senso crítico ao longo das etapas de preparação e montagem da exposição, o que ajudaria a expandir as discussões decolonais dentro do currículo – um desafio para os educadores que estão apoiados justamente em conteúdos didáticos ainda tão marcados pelo eurocentrismo. Melhor ainda, alerta o docente, se a feira for trabalhada para além do mês de novembro, apenas compondo uma programação para a Semana da Consciência Negra.
Para uma próxima feira, Yuri pretende apoiar mais os estudantes na etapa de pesquisas. Para ele, apesar do aumento no volume de estudos e discussões decoloniais, até mesmo os educadores ainda encontram dificuldades para acessar materiais mais aprofundados sobre determinadas passagens históricas em que as presenças negras ou indígenas estejam incluídas ou mesmo legitimadas como detentoras de saber científico de importância. “O que acontece muito é considerar o conhecimento eurocêntrico como aquilo que é a verdade, e todo o resto é cultural, folclórico e diferente. Importante desmistificar isso”, diz.
Contra o apagamento de saberes
Cléslei Chagas, professor de biologia do SESI Bahia, lembra-se de quão assustador foi constatar que, ao longo de toda a sua formação acadêmica, nomes de diversos pensadores negros foram negligenciados a ponto de não serem mencionados nas ementas e discussões dentro da universidade. Foi a partir dessa inquietação que surgiu a ideia do projeto de divulgação científica “Ciência tá preta”.
No início, em 2020, o projeto abria espaço para pesquisadores negros que faziam ciência – da graduação e pós-graduandos – falarem de sua trajetória acadêmica e de seus objetos de pesquisa. A ideia era dar visibilidade aos produtores de conteúdo de conhecimento negro, inicialmente de Salvador, mas que depois incluiu participantes de outros estados.
Atualmente, o projeto passou a dedicar olhar específico para mais um outro público: o de estudantes do Ensino Médio. No dia a dia de trabalho como professores, Cléslei e os parceiros de projeto, Bruno França e Elane Correia, perceberam a lacuna que existe também na etapa de ensino anterior à graduação. Para citar um exemplo, Cléslei destaca que os estudantes são apresentados a Charles Darwin, pensador evolucionista, mas poucas pessoas já ouviram falar em John Edmonstone, cientista ex-escravizado haitiano que estudava taxidermia e que trabalhava na mesma universidade em que Darwin estudou. Darwin passou a cursar Biologia porque ficou impressionado com a técnica de taxidermia, que conheceu por meio de John. “Ou seja, apesar de representar essa grande influência para Darwin, Edmonstone foi apagado dos livros de Ciências”, comenta. “Quando cito isso aos alunos, por exemplo, eles começam a refletir e percebem o apagamento, o silenciamento da contribuição de pensadores, pesquisadores negros e negras ao longo da história.”
Para este ano, o “Ciência tá preta” pretende avançar em mais uma frente – a de montar feiras de Ciências em escolas, pública e privadas, com a ideia de divulgar os trabalhos de pensadores e pesquisadores negros que contribuíram no campo científico para diferentes áreas do conhecimento ao longo da história.
A intenção é construir projetos, em conjunto com professores e alunos das escolas, que estejam dentro das propostas de conteúdos de cada instituição. Por exemplo, se a escola pretender trabalhar o tema tecnologia, o time do “Ciência tá preta” vai apoiar aquela comunidade escolar a formatar a feira com conteúdo que também destaque as colaborações de cientistas negros ligadas à inovação.
A meta é que o projeto conscientize sobre a importância dessas inclusões a ponto de modificar a mentalidade de todos ali, mudando o entendimento sobre parte da história das Ciências. “Queremos plantar uma semente que irá germinar a partir da própria organização dos professores e dos alunos, e que passará a ser replicada nas feiras seguintes”, almeja Cléslei.
De quebra, ao mostrar o quão diverso é o conhecimento científico, os próprios estudantes podem passar a projetar uma carreira como futuros cientistas. “Numa pesquisa, no Google, pelo termo ‘cientista’, os resultados das 10 primeiras páginas mostrarão homens brancos. Estudantes negros podem achar que não poderão ocupar esse espaço na ciência, por não se verem nesse lugar. Então, quando a gente apresenta esses pesquisadores negros e a relevância do trabalho deles, os alunos podem cogitar: ‘eu quero fazer isso também”, analisa.
Valorização dos saberes tradicionais
Nem todos os conhecimentos deslocados do eixo eurocêntrico possuem uma autoria clara. Os saberes tradicionais difundidos em tantos territórios pelo Brasil misturam contribuições africanas e indígenas, e resistem ao tempo sustentados pela oralidade. O que é um prato cheio, por exemplo, para a etnobotânica, que pode ser amplamente usada para subsidiar Feiras de Ciência – inclusive para legitimar o conhecimento científico existente nesses saberes.
A professora de Biologia, Rosa Maria Duarte Veloso, se apoia na etnobotânica para colocar em prática diversas atividades decoloniais com alunos do Centro Educa Mais Professor Ribamar Torres, que fica na cidade de Pastos Bons (MA). “Acredito que o papel da escola é também de valorizar esses conhecimentos e mostrar que eles têm que ser respeitados”, avalia.
Diante das limitações estruturais da escola, de laboratório e equipamentos, e para fugir do distanciamento do ensino apenas por meio dos livros didáticos, a professora tem apostado no ensino de ciências que exalta a potencialidade da biodiversidade local. São aulas para desenvolvimento de projetos de investigação e a alfabetização científica, e que instigam os estudantes a perceberem o que há de ciência no entorno da escola, localizada numa área de transição entre os biomas Cerrado e Amazônia. Em sua eletiva, depois que os temas são trabalhados, os estudantes apresentam os conhecimentos adquiridos em exposição aberta na escola.
Juntamente com os alunos, Rosa já formatou trabalhos como o de observação das nascentes da região, ou os olhos d’águas, com mapeamento e análise sobre o quanto elas colaboravam para o abastecimento de água da cidade. Foram feitas várias incursões com as turmas para os locais – o que estimulou um outro momento do projeto que foi a observação das matas ciliares. O resultado foi um perfil criado pelos alunos no TikTok com mais de 130 identificações de espécies de plantas locais. Em outra ocasião também foram investigadas frutas do cerrado maranhense, usadas na produção de várias receitas. “Penso que decolonizar o currículo é trazer para a escola o território“, analisa.
Enquanto trabalha as percepções dos estudantes sobre os temas escolhidos, Rosa busca incluir a participação de moradores locais que são conhecedores de algum saber que apoie o entendimento do tema do objeto de estudo, como benzedeiras que conhecem usos de plantas medicinais, por exemplo. Além disso, preocupa-se em inserir reflexões de pensadores brasileiros, quilombolas e indígenas, que podem colaborar para as discussões que surgem das investigações, como Nego Bispo, Milton Santos, Ailton Krenak, Ana Mumbuca, entre outros.
Rosa pensa que feiras de ciências decoloniais com foco em etnobotânica poderiam explorar enormemente os saberes locais, além de valorizar o saber científico de comunidades não-brancas, deixando de lado apenas uma visão mitológica ou folclórica atrelada a elas. “Uma feira decolonial é, na essência, uma feira antirracista”, avalia.
Por: Nova Escola


